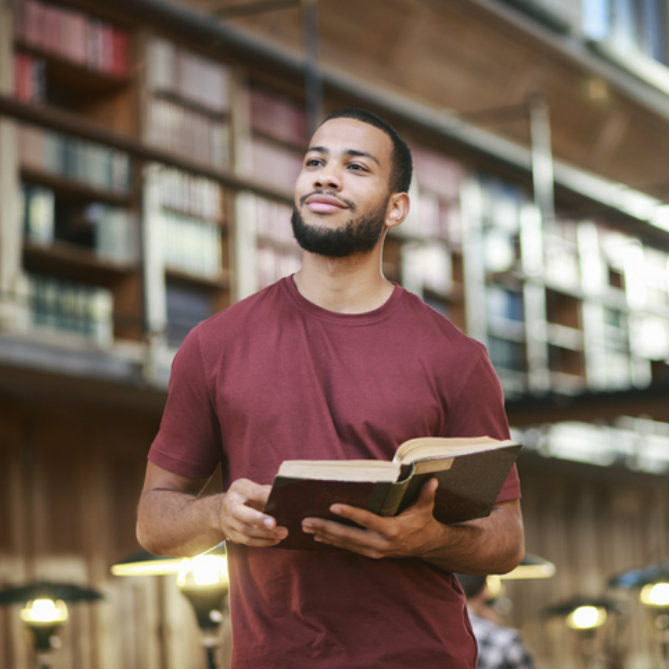Educação
Proclamação da República do Brasil: entenda essa data

A Proclamação da República do Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, é um dos acontecimentos mais importantes da história nacional. Ela marcou o fim do regime monárquico, iniciado com a Independência em 1822, e o começo de um novo período político baseado em princípios republicanos. Essa transição representou uma mudança profunda na forma de governar e na estrutura do Estado brasileiro.
O evento não foi apenas uma troca de governantes, mas uma transformação institucional que alterou as relações de poder e redefiniu o papel da cidadania. A monarquia, centrada na figura do imperador, deu lugar a um sistema de governo em que o poder passou a ser exercido por representantes escolhidos, consolidando a ideia de que o Estado deveria existir em nome do povo e não de uma dinastia.
Embora o movimento tenha sido conduzido principalmente por setores do Exército e por grupos republicanos civis, seus efeitos se estenderam por toda a sociedade. A nova forma de governo influenciou a política, a economia, a educação e até mesmo os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino.
Compreender a Proclamação da República do Brasil é essencial para entender como o país se modernizou e formou sua identidade política. Este artigo apresenta, de forma clara e objetiva, os principais aspectos desse processo histórico — desde o contexto do fim do Império até as consequências e a importância desse marco na construção do Estado brasileiro.
Conheça as nossas graduações e pós-graduações. Clique aqui e saiba mais.
Qual era o regime antes da Proclamação da República?
Antes da Proclamação da República do Brasil, o país era governado por um regime monárquico constitucional, conhecido como Império do Brasil. Esse sistema vigorou de 1822 a 1889, período iniciado com a Independência do Brasil e encerrado com a deposição do imperador Dom Pedro II, que marcou o fim da monarquia e o início da República.
Características do regime monárquico no Brasil
O regime monárquico brasileiro era hereditário, ou seja, o chefe de Estado — o imperador — era escolhido por sucessão dentro da família real. O Império foi dividido em dois períodos: o Primeiro Reinado (1822–1831), governado por Dom Pedro I, e o Segundo Reinado (1840–1889), sob o comando de Dom Pedro II.
A Constituição de 1824, primeira do país, estabeleceu a estrutura política do Império e criou quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O Poder Moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, dava a ele autoridade para intervir em decisões dos outros poderes, com o objetivo de manter o equilíbrio entre eles.
Organização política e social do Império
Durante o Império, o Brasil era uma monarquia unitária e centralizada, ou seja, as províncias possuíam pouca autonomia administrativa. As decisões políticas e econômicas eram concentradas na figura do imperador e em órgãos sediados no Rio de Janeiro, então capital do país.
A economia era baseada na agricultura de exportação, com destaque para o café, e na utilização do trabalho escravizado, que permaneceu legal até 1888, quando foi promulgada a Lei Áurea. O sistema político era marcado pela alternância de poder entre dois grandes partidos: o Partido Liberal e o Partido Conservador.
Cenário de transformações no final do século XIX
Na segunda metade do século XIX, o Império passou por transformações significativas. O crescimento das cidades, o surgimento de novas ideias políticas — como o republicanismo — e o fortalecimento do movimento abolicionista modificaram a estrutura social e política do país.
Além disso, setores do Exército começaram a manifestar insatisfação com o governo imperial, especialmente após a Guerra do Paraguai (1864–1870), quando os militares passaram a reivindicar maior reconhecimento e participação política.
O que foi a Proclamação da República?
A Proclamação da República do Brasil foi o evento histórico que marcou o fim da monarquia e o início do regime republicano no país. Ocorreu em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, então capital do Império, e resultou na derrubada do governo de Dom Pedro II. Esse momento representou uma mudança na forma de governo, na qual o Brasil deixou de ser governado por um imperador hereditário e passou a ser dirigido por um presidente da República, escolhido de forma não hereditária.
Contexto histórico da Proclamação
No final do século XIX, o Império do Brasil enfrentava uma série de desafios políticos, econômicos e sociais. Entre eles, estavam a crise da monarquia, a insatisfação do Exército, o fortalecimento do movimento republicano e as transformações trazidas pelo fim da escravidão.
A Lei Áurea, assinada em 1888, aboliu definitivamente a escravidão, mas causou insatisfação em parte da elite agrária, que perdeu mão de obra e passou a ver o governo imperial com desconfiança. Paralelamente, os militares, que haviam ganhado prestígio durante a Guerra do Paraguai, sentiam-se desvalorizados pelo Império e começaram a apoiar ideias republicanas.
Esses fatores, somados à influência de novas correntes de pensamento — como o positivismo, que defendia a razão, a ciência e o progresso — criaram um ambiente propício para a queda da monarquia.
Conheça as nossas graduações e pós-graduações. Clique aqui e saiba mais.
Qual foi o motivo da Proclamação da República?
A Proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi resultado de um conjunto de fatores políticos, sociais, econômicos e militares que fragilizaram o regime monárquico e tornaram inevitável a transição para uma nova forma de governo. Não houve um único motivo isolado, mas sim um acúmulo de tensões que, ao longo das décadas finais do século XIX, colocaram em xeque a continuidade do Império do Brasil.
1. Insatisfação do Exército com o governo imperial
Um dos principais fatores que contribuíram para a Proclamação da República foi o descontentamento dos militares com a monarquia. Após a Guerra do Paraguai (1864–1870), o Exército brasileiro se tornou mais organizado e influente. Muitos oficiais passaram a defender ideias de modernização e maior autonomia da instituição.
Contudo, o governo imperial mantinha uma postura centralizadora e, em diversas ocasiões, entrou em conflito com líderes militares. Além disso, o positivismo, filosofia que valorizava a ciência, a ordem e o progresso, ganhou força entre os oficiais e aproximou parte deles do movimento republicano.
2. O fortalecimento do movimento republicano
Desde meados do século XIX, começaram a surgir clubes e jornais republicanos que defendiam o fim da monarquia e a implantação de um regime representativo, baseado na eleição de governantes.
Esses grupos acreditavam que o modelo monárquico já não atendia às necessidades de um país em transformação. Com o avanço das cidades, o crescimento da economia cafeeira e o surgimento de uma classe média urbana, cresceu também a demanda por maior participação política e por um sistema que representasse melhor os interesses da população.
3. As consequências da abolição da escravidão
A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil. Embora tenha sido um marco importante na história do país, a abolição trouxe impactos políticos significativos.
Grande parte da elite rural, especialmente os cafeicultores, sentiu-se prejudicada por não ter recebido indenização pela perda de seus trabalhadores escravizados. Muitos desses proprietários, que antes apoiavam o Império, passaram a se aproximar dos republicanos, vendo na mudança de regime uma oportunidade de maior influência política.
4. Crise de legitimidade e desgaste da monarquia
Após quase sete décadas de existência, a monarquia brasileira enfrentava desgaste político e falta de apoio popular. A sucessão ao trono também era um tema sensível: Dom Pedro II não tinha herdeiros homens, e a ideia de que sua filha, a princesa Isabel, pudesse assumir o trono gerava resistência entre setores conservadores.
Além disso, o governo imperial era percebido como distante das transformações sociais e econômicas em curso, mantendo uma estrutura política restrita, baseada no voto censitário (apenas cidadãos com determinada renda podiam votar).
5. O episódio que precipitou a queda
Em novembro de 1889, o Visconde de Ouro Preto, então chefe do governo imperial, propôs reformas que desagradaram os militares. Circulavam também rumores de que o imperador pretendia prender oficiais envolvidos com o republicanismo.
Essas circunstâncias levaram o marechal Deodoro da Fonseca, inicialmente monarquista, a liderar o movimento que depôs o governo no dia 15 de novembro. A ação ocorreu sem enfrentamentos diretos e selou o fim do regime monárquico.
Veja a diferença entre Licenciatura para bacharelado em História.
Quando e onde foi a Proclamação da República?
A Proclamação da República do Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele período. Essa data marcou oficialmente o fim do Império do Brasil e a instalação do regime republicano, encerrando o governo de Dom Pedro II e iniciando uma nova fase política baseada nos ideais de cidadania e representação.
Quem liderou a Proclamação da República?
A Proclamação da República do Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, foi liderada pelo marechal Deodoro da Fonseca, um dos nomes mais importantes do Exército brasileiro no século XIX. A ação contou com o apoio de oficiais militares e civis republicanos, que participaram da organização do movimento que pôs fim ao Império e deu início ao regime republicano.
Marechal Deodoro da Fonseca: o líder do movimento
Manuel Deodoro da Fonseca (1827–1892) era um militar de carreira com longa trajetória nas Forças Armadas. Nascido em Alagoas, participou de diversos conflitos internos e externos, incluindo a Guerra do Paraguai (1864–1870), na qual ganhou destaque e prestígio.
Ao longo de sua vida, Deodoro manteve uma postura monarquista moderada, mas nos anos que antecederam 1889, passou a se aproximar de oficiais que defendiam o republicanismo. O crescente descontentamento do Exército com o governo imperial e os conflitos políticos entre militares e o Visconde de Ouro Preto — então chefe do Conselho de Ministros — acabaram levando o marechal a assumir a liderança do movimento.
No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro comandou as tropas que se concentraram no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Diante da pressão militar, o Visconde de Ouro Preto foi deposto, e o Império do Brasil foi oficialmente encerrado. Poucos dias depois, foi instituído o Governo Provisório, com Deodoro da Fonseca à frente como chefe de Estado.
Outros personagens importantes do movimento
Embora Deodoro da Fonseca tenha sido o principal líder, a Proclamação da República do Brasil foi resultado de uma articulação coletiva que envolveu militares, políticos e intelectuais. Entre os nomes de destaque estão:
- Benjamin Constant Botelho de Magalhães – Oficial do Exército e professor da Escola Militar do Rio de Janeiro, foi um dos principais influenciadores ideológicos do movimento republicano. Inspirado pelo positivismo, Benjamin Constant defendia um governo baseado na razão, na ciência e na ordem social. Sua atuação foi decisiva para mobilizar jovens oficiais a favor da mudança de regime.
- Floriano Peixoto – Também marechal e subordinado direto de Deodoro, participou ativamente das ações do dia 15 de novembro e, posteriormente, tornou-se vice-presidente da República e segundo presidente do Brasil após a renúncia de Deodoro em 1891.
- Quintino Bocaiúva – Jornalista e político, foi um dos mais influentes porta-vozes do republicanismo civil. Atuou na propaganda republicana por meio da imprensa e, após a proclamação, integrou o governo provisório, ocupando o cargo de ministro das Relações Exteriores.
Essas figuras representavam diferentes setores da sociedade — militar, intelectual e político — que se uniram em torno da ideia de substituir o regime monárquico por uma república.
Como foi a Proclamação da República?
O evento marcou o fim da monarquia constitucional e o início do regime republicano federativo e presidencialista. A mudança foi conduzida por militares e civis republicanos, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, e ocorreu de forma rápida e sem grandes confrontos armados.
O contexto político e social do período
Nos anos que antecederam a Proclamação da República, o Brasil vivia um momento de transformações. O Império, governado por Dom Pedro II, enfrentava dificuldades para lidar com novas demandas políticas e sociais. A abolição da escravidão, em 1888, havia gerado insatisfação entre parte da elite rural, que se sentiu prejudicada pela perda da mão de obra escravizada.
Ao mesmo tempo, o Exército mostrava crescente insatisfação com o governo imperial. Após sua participação na Guerra do Paraguai, os militares desejavam mais reconhecimento e autonomia, mas o regime mantinha um controle rígido sobre as Forças Armadas. Nesse ambiente, ideias republicanas e positivistas ganharam força, defendendo a substituição do sistema monárquico por um governo baseado em ciência, progresso e representação política.
Os acontecimentos de 15 de novembro de 1889
Na manhã do 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca liderou um grupo de oficiais que saiu às ruas do Rio de Janeiro em direção ao Campo de Santana, local onde o Exército costumava realizar suas formações. O objetivo era depor o gabinete chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, último presidente do Conselho de Ministros do Império.
As tropas cercaram prédios públicos e se posicionaram diante do quartel-general. O governo imperial não resistiu, e o Visconde de Ouro Preto foi destituído. Poucas horas depois, os líderes militares declararam o fim do regime monárquico e anunciaram a criação de um Governo Provisório. O marechal Deodoro da Fonseca assumiu a chefia desse novo governo, marcando oficialmente a Proclamação da República do Brasil.
A reação do imperador e da população
O imperador Dom Pedro II, ao ser informado dos acontecimentos, optou por não reagir militarmente. Na noite do dia 15, recebeu uma comunicação oficial informando que a monarquia estava encerrada e que a família imperial deveria deixar o país. De maneira pacífica, Dom Pedro II acatou a decisão e embarcou para a Europa dois dias depois, encerrando o período imperial que durou 67 anos.
A população, em sua maioria, não participou ativamente do movimento. Grande parte dos brasileiros apenas soube da mudança nos dias seguintes, por meio de notícias e comunicados oficiais. Na época, o país possuía baixos índices de alfabetização e restrita participação política, o que explica o distanciamento popular em relação ao processo.
Qual foi o papel do exército na Proclamação da República?
O Exército teve papel decisivo na Proclamação da República do Brasil. Mais do que um simples participante, a instituição foi o principal agente político e executor do movimento que encerrou o regime monárquico e instaurou o regime republicano. A liderança do processo coube a oficiais do Exército, entre eles o marechal Deodoro da Fonseca e o tenente-coronel Benjamin Constant, ambos figuras centrais na organização e condução do evento.
O contexto militar antes da Proclamação
Durante o Império do Brasil, as Forças Armadas estavam subordinadas à autoridade direta do imperador, o que limitava sua autonomia institucional. Após a Guerra do Paraguai (1864–1870), o Exército ganhou experiência, prestígio e um novo senso de identidade. Muitos oficiais passaram a defender maior valorização da carreira militar e o reconhecimento da importância da instituição para o país.
Entretanto, o governo imperial manteve uma relação distante com os militares, gerando insatisfação dentro dos quartéis. Além disso, a presença de ideias positivistas e republicanas nas escolas militares influenciou fortemente uma nova geração de oficiais, que começou a ver o regime monárquico como ultrapassado e incompatível com o progresso nacional.
As motivações do Exército
O Exército não se rebelou de forma repentina. Seu envolvimento foi resultado de uma acumulação de tensões políticas e institucionais. Alguns dos motivos mais relevantes foram:
- O baixo reconhecimento aos oficiais que lutaram na Guerra do Paraguai;
- As restrições orçamentárias e disciplinares impostas pelo governo imperial;
- A influência do positivismo, que defendia a modernização política e o progresso científico;
- A crescente aproximação entre militares e republicanos civis, que compartilhavam o objetivo de reformar o Estado brasileiro.
Essas condições criaram um ambiente propício para a atuação do Exército como força de transformação política. Muitos oficiais viam a Proclamação da República do Brasil como uma oportunidade de estabelecer um novo regime mais alinhado com as ideias de modernização e autonomia institucional.
Consequências da Proclamação da República
A Proclamação da República do Brasil provocou mudanças profundas na estrutura política e institucional do país. A transição do regime monárquico para o republicano alterou não apenas a forma de governo, mas também a organização do Estado, as relações de poder e os símbolos nacionais. Embora o movimento tenha ocorrido de forma rápida e pacífica, suas consequências foram duradouras e definiram os rumos da política brasileira nas décadas seguintes.
Transformações políticas e institucionais
A principal consequência da Proclamação da República foi o fim da monarquia constitucional, que havia governado o Brasil por 67 anos, e o início de um regime republicano e federativo. O novo sistema político passou a adotar o presidencialismo, no qual o chefe de Estado e de governo seria o presidente da República, e não mais um imperador.
Com o fim do Império, as antigas províncias foram transformadas em estados federados, com maior autonomia administrativa e legislativa. Essa estrutura foi consolidada na Constituição de 1891, elaborada durante o Governo Provisório chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca. A nova Carta Magna instituiu também o voto direto e aberto (embora restrito aos homens alfabetizados) e determinou a separação entre Igreja e Estado, rompendo com a tradição do catolicismo como religião oficial do país.
Essas mudanças inauguraram o período histórico conhecido como Primeira República, ou República Velha, que durou de 1889 a 1930. Nesse período, o poder político ficou concentrado nas mãos das oligarquias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, no que ficou conhecido como política do “café com leite”.
Mudanças simbólicas e identitárias
A Proclamação da República também trouxe alterações nos símbolos nacionais. A bandeira imperial, que continha o brasão da monarquia, foi substituída por uma nova bandeira nacional, instituída em 19 de novembro de 1889. O novo estandarte manteve as cores verde e amarela, mas introduziu o globo azul com estrelas brancas, representando os estados brasileiros, e o lema “Ordem e Progresso”, inspirado na filosofia positivista.
Outros símbolos também foram modificados: o hino nacional foi adaptado ao novo regime, e os títulos de nobreza foram abolidos. O país passou a se definir oficialmente como República dos Estados Unidos do Brasil, denominação que permaneceu até 1967.
Essas transformações simbólicas tinham o objetivo de marcar a ruptura com o passado monárquico e criar uma nova identidade política e cívica baseada em valores republicanos, como a igualdade entre os cidadãos, a representatividade política e a soberania popular.
Impactos sociais e econômicos
Embora a Proclamação da República tenha representado uma mudança institucional significativa, seus efeitos imediatos sobre a sociedade foram limitados. A grande maioria da população não participou do processo e continuou excluída da vida política, já que o direito ao voto era restrito.
Os grupos que mais se beneficiaram do novo regime foram as elites rurais e urbanas, que passaram a exercer maior influência sobre o governo. O Exército, que liderou o movimento, consolidou-se como uma das principais forças políticas do país, desempenhando papel ativo nas decisões de Estado e nas intervenções políticas ao longo do período republicano.
Do ponto de vista econômico, o novo governo manteve a estrutura agroexportadora baseada no café, principal produto de exportação da época. Houve, contudo, um aumento do investimento em infraestrutura e em modernização urbana, especialmente nas capitais, impulsionado pelos ideais de progresso associados ao novo regime.
Consequências de longo prazo
A Proclamação da República do Brasil inaugurou uma nova era de transformações políticas, marcada pela alternância entre estabilidade e crises institucionais. Entre suas principais consequências de longo prazo, destacam-se:
- A consolidação do modelo federativo de Estado;
- A valorização do Exército como ator político relevante;
- A ampliação do debate público sobre cidadania e democracia;
- A substituição do poder hereditário pelo princípio da eleição de governantes;
- A redefinição dos símbolos nacionais e da identidade política brasileira.
Apesar das promessas de modernização e representação, a República manteve por décadas um sistema político restrito, com pouca participação popular, o que só começaria a se modificar de maneira mais ampla no século XX.
Como a Proclamação da República impactou na alfabetização?
A Proclamação da República do Brasil provocou mudanças significativas nas estruturas políticas e institucionais do país — e a educação foi uma das áreas mais afetadas por esse novo contexto. Embora o processo de alfabetização ainda enfrentasse grandes desafios no final do século XIX, o novo regime trouxe novas ideias sobre o papel do ensino e sobre a necessidade de formar cidadãos capazes de participar da vida pública.
O impacto da Proclamação na alfabetização não foi imediato, mas o discurso republicano introduziu uma visão moderna de educação, voltada à construção de uma nação instruída e civilizada. Essa mudança de mentalidade seria fundamental para as políticas educacionais que se desenvolveriam nas décadas seguintes.
O cenário educacional antes da Proclamação
Durante o Império do Brasil, a educação era limitada e de alcance restrito. A instrução primária não era obrigatória, e a responsabilidade pela criação e manutenção das escolas recaía sobre as províncias. Isso resultava em desigualdades regionais expressivas e em uma população amplamente analfabeta.
De acordo com levantamentos históricos, mais de 80% da população brasileira era analfabeta na década de 1880. As escolas eram escassas, especialmente nas áreas rurais, e o ensino estava fortemente ligado à Igreja Católica, que exercia influência sobre os currículos e métodos pedagógicos.
A educação feminina também era limitada, e o ensino secundário e superior destinava-se quase exclusivamente às elites urbanas. Em síntese, o modelo educacional imperial atendia a uma pequena parcela da sociedade, sem uma política ampla de alfabetização ou universalização do ensino.
As mudanças trazidas pela República
Com a Proclamação da República do Brasil, o Estado passou a adotar uma nova perspectiva sobre a educação. Inspirados pelos ideais do positivismo e do liberalismo, os republicanos defendiam que a instrução pública deveria ser um instrumento de modernização social e de formação cívica.
A Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre Igreja e Estado, o que significou que a educação deixou de ter caráter religioso obrigatório e passou a ser laica. Essa mudança foi um marco importante para o ensino brasileiro, pois transferiu à esfera civil a responsabilidade pela formação intelectual e moral dos cidadãos.
As escolas primárias começaram a ser vistas como espaços fundamentais para o desenvolvimento da República. O ensino da leitura, da escrita e do civismo passou a ser associado à construção da identidade nacional e à consolidação dos valores republicanos. Em várias capitais, governos estaduais criaram escolas públicas de ensino básico, voltadas à alfabetização de crianças e à difusão de novos métodos pedagógicos.
Qual a importância da Proclamação da República?
A Proclamação da República do Brasil, realizada em 15 de novembro de 1889, representa um dos marcos mais significativos da história do país. Esse acontecimento simbolizou a transição do regime monárquico para o regime republicano, encerrando o período do Império e inaugurando uma nova etapa política e institucional.
Mais do que uma simples mudança de governo, a Proclamação significou uma transformação na estrutura do Estado brasileiro, redefinindo seus valores, símbolos e princípios de organização política.
Com a Proclamação da República do Brasil, o país deixou de ser governado por um imperador e passou a adotar um modelo republicano, baseado na ideia de que o poder deveria ser exercido por representantes escolhidos pela sociedade.
O novo regime instituiu o presidencialismo e o federalismo, substituindo o sistema centralizado do Império por um modelo em que os estados passaram a ter maior autonomia política e administrativa. Essa descentralização foi uma das mudanças mais relevantes, pois permitiu uma reorganização do poder político em diferentes regiões do país.
A Constituição de 1891, elaborada logo após o movimento, consolidou as bases do novo Estado. Ela definiu o Brasil como uma República Federativa, estabeleceu o voto direto (ainda que limitado aos homens alfabetizados), garantiu a liberdade de culto e formalizou a separação entre Igreja e Estado. Essa nova estrutura legal refletia o desejo de modernizar o país, aproximando-o dos ideais políticos e científicos que marcavam o final do século XIX.
Outro aspecto importante da Proclamação da República do Brasil foi a criação de uma nova identidade nacional. O novo governo substituiu os símbolos da monarquia por emblemas republicanos que representassem a unidade e o progresso do país. A bandeira imperial, que trazia o brasão real, deu lugar à bandeira republicana, instituída em 19 de novembro de 1889, com o lema “Ordem e Progresso”, inspirado na filosofia positivista. Essa simbologia representava os valores que o novo regime desejava promover: estabilidade, racionalidade e desenvolvimento.
A Proclamação também contribuiu para fortalecer o conceito de cidadania no Brasil. Ainda que de forma restrita, o regime republicano introduziu a ideia de que o poder político deveria emanar do povo, e não de uma linhagem hereditária. A noção de que o cidadão poderia participar da escolha de seus governantes começou a se consolidar, mesmo que o direito ao voto fosse limitado a uma pequena parcela da população. Com o passar do tempo, esse princípio serviria de base para a ampliação dos direitos políticos e sociais.
Do ponto de vista social e educacional, a Proclamação estimulou o debate sobre a formação cívica e moral dos cidadãos. A educação passou a ser vista como um instrumento de fortalecimento da República, e os ideais de alfabetização e civismo começaram a ganhar espaço no discurso político. O ensino laico e público foi valorizado como parte do processo de construção de uma nação moderna, ainda que as transformações nessa área tenham ocorrido de maneira lenta e desigual.
A importância da Proclamação da República do Brasil também está em seu legado político. Ela marcou o início de um novo ciclo de poder, conhecido como Primeira República ou República Velha, período que durou até 1930. Nesse tempo, o país viveu mudanças institucionais, consolidou o federalismo e experimentou novas formas de organização partidária e administrativa. Ainda que o regime tenha mantido limitações democráticas, ele representou um passo importante na formação do Estado nacional moderno.
Conheça as nossas graduações e pós-graduações. Clique aqui e saiba mais.
Publicado em 07/11/2025.